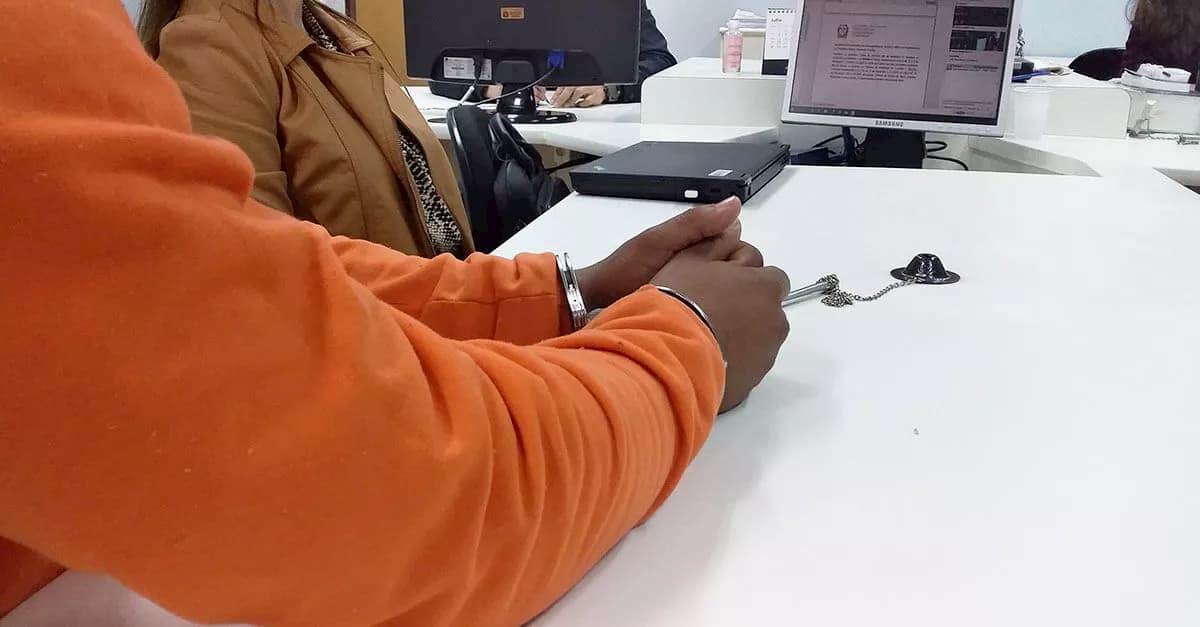INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre a Responsabilidade do Dano Moral e sua Quantificação. No contexto geral, procura-se absorver o conceito de dano enfatizando o dano moral e sua evolução. Para tanto, procura-se citar as condições necessárias para a reparação do dano e de que forma pode-se analisar a quantificação do dano moral.
Constata-se que o dano moral, apesar de ter sido consagrado no art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal do Brasil (1988), na Doutrina e na Jurisprudência, é ainda muito discutido, principalmente em se tratando da referida quantificação – dado o teor subjetivo da questão – que, frente à inexistência de "métodos exatos" para defini-lo, inexiste, igualmente, a possibilidade de reunir uma certeza, deixando, assim, ao arbítrio do magistrado.
Referidos ditames constitucionais consagraram, definitivamente, a indenização por dano moral, mas, mesmo assim, eméritos julgadores se sentem de mãos atadas pela difícil associação da reparação pecuniária perante a perda extrapatrimonial.
Elaborada como requisito para a conclusão do Curso de Direito, da Universidade Federal de Mato Grosso, desta monografia consta, no seu desenvolver, breve análise das principais questões relacionadas ao dano moral e estudadas pela doutrina e jurisprudência. Como suporte aos argumentos desenvolvidos, considerou-se, basicamente, as doutrinas pátria e alienígena e o direito positivo brasileiro, além de alguns julgados dos nossos Tribunais.
1. A RESPONSABILIDADE CIVIL
Antes de adentrarmos no tema específico do presente trabalho, é de bom grado que se faça algumas considerações acerca da responsabilidade civil.
Todo causador de dano tem obrigação de repará-lo, e nesta assertiva se fundamenta a teoria da responsabilidade, que tem como pressupostos: ação ou omissão do agente; culpa do agente quando subjetiva a responsabilidade; relação de causalidade; dano experimentado pela vítima.
Na concepção clássica, a responsabilidade conceitua-se como obrigação que incumbe a uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam. O prejuízo causado pode decorrer de ação ou omissão, em ambas as hipóteses com dolo ou culpa.
Também é inconcebível a responsabilidade se não houver uma relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano causado. Assim, se o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não há responsabilidade por parte do causador.[1]
Na esfera da responsabilidade, os seguintes temas merecem especial realce: a) responsabilidade da pessoa física; b) responsabilidade da pessoa jurídica; c) responsabilidade coletiva de associações e grupos; d) responsabilidade objetiva e subjetiva; e) responsabilidade contratual; f) responsabilidade extracontratual; g) responsabilidade decorrente de exercício abusivo de direito; h) responsabilidade por fato de terceiro; e i) responsabilidade do Estado.
1.1. Responsabilidade da pessoa física
Durante séculos, a responsabilidade da pessoa física constitui o único tema, quando se travava da obrigação de ressarcir o dano causado. Ainda hoje, as diversas manifestações do universo jurídico (doutrina, decisões judiciais) sobre o dano patrimonial ou pessoal enfocam a matéria sob o mesmo ângulo, a ponto de parecer dispensável, por se tratar de algo óbvio, ao menos inter doctos, tecer considerações sobre a responsabilidade da pessoa física quando causadora de dano patrimonial ou pessoal.
A matéria assume complexidade quando a pessoa física é obrigada a responsabilizar-se por fato de terceiro, a ponto de merecer um tratamento diferenciado, que será objeto de parágrafo à parte.[2]
1.2. Responsabilidade da pessoa jurídica
Sendo a pessoa jurídica uma “realidade sociológica”, “corpo intermediário”, não criado pelo Estado, mas por este reconhecido, dando-lhe personalidade, inescapável é admitir que responde por atos por ela praticados.
Não é, apenas, a existência distinta de seus membros (universitas distat a singulis), mas também distinta a responsabilidade, ainda que seus atos sejam realizados por pessoas físicas que as representam. Assim, quando, em qualquer campo do direito, em qualquer campo material (civil, trabalhista, criminal), judicial ou extrajudicialmente, seu representante legal ou seu preposto fala ou age em seu nome, é a pessoa jurídica que fala, age, confessa, acorda, transaciona, paga, recebe e pratica ato ilícito (deste obtendo os efeitos benéficos desejados e até mesmo, se for o caso, a sanção premial) ou ato ilícito contratual ou extracontratual, respondendo por ele no caso de perdas e danos patrimoniais e/ou morais.[3]
Se seus atos forem defeituosos (vícios sociais: erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores e simulação), sofrem os efeitos decorrentes de tais circunstâncias. Quando, porém, ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), com abuso de poder, excesso de poder ou violação estatutária, o prejudicado pelo dano da sociedade pode socorrer-se com os bens patrimoniais dos administradores desta.
Não há razão para excluir da responsabilidade da pessoa jurídica as sociedades integrantes dos grupos societários, as controladas, consorciadas e coligadas.
Desde que juridicamente constituída, para efeito da responsabilidade é indiferente que a pessoa jurídica seja associação (sem fins lucrativos) ou sociedade (visando lucro), que seja universitas personarum (elemento subjacente: o homem), ou universitas bonorum (fundadas em torno de um patrimônio).
A responsabilidade das sociedades comerciais assume contornos diversos, conforme se trate de sociedade em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, em conta de participação, por contas de responsabilidade limitada ou anônima.
Embora haja um consenso doutrinal e jurisprudencial quanto à legitimação passiva da pessoa jurídica, serão aqui expostas algumas observações suplementares concernentes à responsabilidade da pessoa jurídica em relação a atos de seus membros fora de ações de representação dentro de duas hipóteses distintas: a pessoa jurídica em ato coletivo age dentro da lei, mas um de seus membros causa dano de modo anônimo ou identificado.
A título de exemplo, examinemos a matéria em um fenômeno sociológico muito comum, que é o das passeatas ou das torcidas organizadas em eventos.
Se a pessoa jurídica, agindo dentro dos parâmetros legais, obedecendo a determinações administrativas pertinentes e, um de seus membros devidamente identificado em seu ato, participando do evento, causa dano patrimonial, responde pessoalmente por seu comportamento.
Indaga-se, porém, quando ocorre situação diversa: o ato danoso permanece no anonimato apesar de todos os esforços envidados para identificação.
A questão é relevante porque, historicamente, a comprovação da existência do vínculo de causalidade a cargo da vítima tem sido uma garantia de liberdade individual, tendo como conseqüência o fato de que, quando o dano não decorrer de uma ação culpável, seu autor não poderia ser incomodado.
Os autores que abordam a matéria tecem longas considerações, recorrem à analogia, citando especialmente o art. 938 do Código Civil[4] ou o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,[5] para concluir, com razão, que a pessoa jurídica responde objetivamente pelo dano causado.
A responsabilidade da pessoa jurídica é coletiva e tem como fundamento esse mesmo conceito de responsabilidade objetiva, baseando-se no fato de que, se houve dano, alguém tem de repará-lo.
A questão básica que se coloca é a de que a vítima do dano não pode ver frustrado o pedido de reparação por impossibilidade de individualização do agente causador, estando o grupo devidamente identificado.
Ao tratar da caracterização da responsabilidade coletiva, Júlio Alberto Díaz assim se manifesta:
“Obviamente deve tratar-se de um dano anônimo, assim qualificado pela impossibilidade real da determinação do autor daquele. Esta circunstância não pode ser identificada com a mera falta de prova por negligência processual da vítima. Pelo contrário, o sujeito que sofre o dano deve esgotar a possibilidade de identificação do responsável até colocá-lo, no mínimo, dentro de um círculo reduzido de pessoas.
Claro que a dificuldade probatória deve apenas estar referida à identificação do autor material, pois resulta imprescindível a demonstração de que o dano foi provocado por algum, dentre vários indivíduos determinados.
A mínima das exigências, para que uma pessoa possa ser comprometida como membro de um grupo, é a de saber se ela fazia parte desse grupo. A inobservância desse requisito abre as portas ao risco de dar à responsabilidade coletiva uma extensão inadmissível.”[6]
Conclui, o mesmo autor, seu raciocínio sobre a possibilidade de existência de uma responsabilidade coletiva:
“Consideramos a responsabilidade coletiva como uma evolução no desenvolvimento do sistema geral da responsabilidade civil. A falta de identificação do agente causador do dano não pode conduzir à irresponsabilidade deste e ao conseqüente desamparo da vítima.
Perante o dilema de valor criado pelo anonimato opta-se pela não-exoneração dos membros componentes do grupo identificado.
Interpretamos que a norma contida no art. 1.529 do Código Civil[7] é suscetível de aplicação analógica, o que possibilita o reconhecimento de um sistema de responsabilidade aplicável a todos os casos em que apareçam os extremos configurantes deste tipo de responsabilidade (anônima).”[8]
A solução doutrinária dada à questão acima colocada atribui a responsabilidade do dano ao grupo, pelos atos cometidos por seus membros, ainda que não individualmente identificados, evitando-se a ocorrência de lesão a outrem sem que haja a devida reparação.
1.3. Responsabilidade objetiva e subjetiva
Ocorre responsabilidade subjetiva quando o dano decorre diretamente do autor que o causa.
No sentido de remediar os inconvenientes advindos da estreiteza da teoria da culpa e com o escopo de facilitar à vitima a obtenção de justa reparação, alguns procedimentos técnicos foram adotados pela lei e pela jurisprudência. Entre eles cabe distinguir: a) o acolhimento da noção de abuso de direito; b) a admissão, em muitos casos, da presunção de culpa do agente causador do dano; c) o enquadramento da responsabilidade dentro do corpo do contrato; e d) a adoção, em determinadas hipóteses, da teoria do risco.
A responsabilidade subjetiva só se concretiza se houver dolo ou culpa por parte do causador do dano. Já a responsabilidade objetiva independe de culpa, pois aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, é obrigado a repará-lo ainda que não se apure ação culposa.
Basta, pois, que se evidencie a relação de causalidade entre o ato e o dano para configurar-se a responsabilidade pela reparação do dano.
A responsabilidade objetiva é de ampla aplicação no campo do direito, destacando-se entre outras hipóteses: na responsabilidade pelo fato das coisas, a responsabilidade pelos danos ambientais, na Lei nº 6.367/76 sobre acidentes do trabalho.
A “teoria do risco”, nas hipóteses previstas em lei, implica responsabilidade objetiva, pois basta que alguém, no exercício de sua atividade, crie risco de dano para terceiro, devendo repará-lo, ainda que seu comportamento seja isento de culpa, isto é, apesar de ter tomado todas as providências para que o evento não acontecesse.[9]
1.4. Responsabilidade contratual
Se antes da obrigação de indenizar existir entre o sujeito ativo e o passivo do dano um vínculo jurídico derivado de convenção e o dano decorrer do descumprimento da avença, a responsabilidade diz-se contratual. Descumprida a obrigação ou deixada de cumprir pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos.[10]
Na responsabilidade contratual, basta que haja inadimplemento da obrigação para haver direito à reparação, que só se elide se ocorrer força maior ou outra excludente de responsabilidade.
1.5. Responsabilidade extracontratual
A responsabilidade será extracontratual ou aquiliana se resultante da prática de ato ilícito, inexistindo vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligadas por uma relação obrigacional ou contratual. A fonte dessa responsabilidade é a lesão a um direito, sem que entre ofensor e ofendido preexista qualquer relação jurídica.
Existe a garantia do nosso ordenamento jurídico de que, se o dano não for conseqüência de culpa ou risco, o sujeito não sofrerá moléstia alguma, importando em uma garantia individual.[11]
No passado a idéia de culpa sempre foi informadora da responsabilidade civil, baseada na idéia de que aquele que causasse dano a outrem deveria repará-lo, mas só deveria fazê-lo se houvesse infringido uma regra de conduta legal, social ou moral. Assim, se alguém causasse prejuízo a outrem, mas ficasse comprovado que agiu de forma absolutamente incensurável, não deveria, ordinariamente, ser compelido a reparar o dano, ante a ausência de culpa, segundo a teoria clássica da inexistência de responsabilidade.
Tal concepção, contudo, permitia que a vítima permanecesse sem ser indenizada pelos prejuízos sofridos.
Com o passar do tempo, a revolução industrial e o aumento do número de acidentes, a muitos juristas pareceu conveniente ao menos propiciar às vítimas um meio de se ressarcirem dos prejuízos experimentados.
Existem, com efeito, diversas situações que precisam ser devidamente amparadas pelo direito, caso contrário implicariam injustiça e impunidade.
Conforme bem expõe Júlio Alberto Díaz a respeito da questão:
“(...) o tratamento da questão não pode ignorar as mudanças que a Justiça, como meio de satisfazer os requerimentos e necessidades dos cidadãos, vem sofrendo nos últimos anos. Descobriu-se, por exemplo, que não só existem danos injustamente causados, mas também os que, não tendo sido ‘causados injustamente’, são ‘injustamente sofridos’. (...) isso determinou uma passagem do direito de responsabilidade ao direito de danos; o primeiro, preocupado pelo responsável, o segundo, pela vítima.”[12]
Silvio Rodrigues, analisando o tema em debate e fazendo breve síntese, assim expõe:
“Essa preocupação dos juristas se inspirava principalmente no convencimento de que uma teoria da responsabilidade, baseada no tradicional conceito de culpa, apresentava-se talvez inadequado para atender àquele anseio de ressarcimento (...). Isso porque impor à vítima, como pressuposto para ser ressarcida do prejuízo experimentado, o encargo de demonstrar não só o liame de causalidade, como por igual o comportamento culposo do agente causador do dano, equivalia a deixá-la irressarcida, pois em numerosíssimos casos o ônus de prova surgira como barreira intransponível. Por conseguinte, mister se fazia encontrar meios de alforriar a vítima desse encargo, o que foi obtido através de vários procedimentos técnicos, inclusive pela preconizada adoção da teoria do risco.
Esses processos técnicos também chamados paliativos ao rigor da culpa, e que são soluções menos severas do que a adoção da teoria do risco criado, apresentam-se como marcas na evolução conceitual da noção de culpa à noção de risco (...). Tais expedientes consistiam, entre outros:
a) em propiciar maior facilidade à prova de culpa;
b) na admissão da idéia de exercício abusivo do direito, como ato ilícito;
c) no reconhecimento de presunções de culpa;
d) em admitir, em maior número de casos, a responsabilidade contratual;
e) finalmente, na admissão, em determinados casos, da teoria do risco." [13]
A teoria do risco faz resultar a responsabilidade do próprio fato como conseqüência do risco criado, sem questionar a conduta do agente, sua negligência ou sua imprudência. A responsabilidade surge do próprio fato causador do dano, mesmo que inexista culpa do agente causador.[14]
1.6. Responsabilidade pelo uso irregular do direito e abuso de direito
Quando o agente atua dentro dos limites da lei, não há obrigação de reparar, se da ação decorrer dano.
Todavia, pode ocorrer que o agente pratique irregularmente um ato no exercício do direito, cometendo ato ilícito. Assim agindo, incorre no que a doutrina denomina “abuso de direito”. Embora atue dentro das prerrogativas que o direito concede, não se considera a finalidade social do direito subjetivo e, assim agindo, causa dano a outrem.
A doutrina do abuso de direito data do século passado, embora suas origens sejam bem mais antigas, oriundas do direito romano.
O primeiro texto legislativo moderno que procurou coibir o abuso de direito foi o Código Civil da Prússia de 1794, que assim dispunha:
“O que exerce o seu direito, dentro dos limites próprios, não é obrigado a reparar o dano que causa a outrem, mas deve repará-lo, quando resulta claramente das circunstâncias que entre algumas maneiras possíveis de exercício de seu direito foi escolhida a que é prejudicial a outrem, com intenção de lhe acarretar dano (§§ 36 e 37).” [15]
Somente a partir do Código Civil alemão de 1900 alguns outros códigos passaram a admitir a inclusão da doutrina do abuso de direito, embora haja ainda grande diversidade de fórmulas adotadas.
Não há, no direito positivo brasileiro, norma que aceite ou repudie expressamente a teoria do abuso de direito, mas existem normas que são contrárias ao exercício anormal de certos direitos, como ocorre, por exemplo, com o art. 188 do Código Civil, que, ao arrolar as causas excludentes da ilicitude, dispõe, dentre outras, que “não constituem atos ilícitos... os praticados... no exercício regular de um direito reconhecido”, de forma que, contrario sensu, serão atos ilícitos os praticados no exercício irregular de qualquer direito.
A melhor definição para o tema em estudo é a constante Código Civil que, em seus art. 187, se refere expressamente ao abuso de direito, condenando o exercício abusivo de qualquer direito subjetivo ao estabelecer:
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
Alvino Lima assim analisa a questão em estudo:
“Mesmo no exercício daquelas prerrogativas que a lei nos confere, a nossa ação pode ferir interesses, lesar terceiros, produzir o desequilíbrio social. Esta lesão do direito de terceiro pode gerar a nossa responsabilidade, quando exercemos o nosso direito sem obedecer a certos ditames fundamentais da polícia jurídica, ordenados pela própria natureza das instituições jurídicas.”[16]
O cerne da questão é que, mesmo que o indivíduo esteja exercendo seu direito legítimo, ainda assim pode causar dano à outra pessoa de o fizer abusivamente.
O problema ligado ao limite do exercício do direito, além do qual poderá ser abusivo, constitui a essência da teoria do abuso de direito.
Caio Mário da Silva Pereira, comentando o tema em exame, afirma:
“(...) os direitos existem em razão de uma certa finalidade social e devem ser exercidos na conformidade deste objetivo. Todo direito se faz acompanhar de um dever, que é o de exercer perseguindo a harmonia das atividades. A contravenção a esse poder constitui abuso do direito.”[17]
A consciência jurídica inclina-se no sentido de que isso deve efetivamente ocorrer, pois o ofensor poderia, sem prejuízo para ele, não fazer uso do direito, ou fazê-lo de forma a não prejudicar terceiro.
Martinho Garcez Neto, a respeito do assunto em comento, assim expõe:
“Os partidários da teoria do abuso de direito sustentam que a reparação é devida (1º) porque o direito não é um fim, e sim um meio, e, como tal, sob nenhum pretexto pode ser empregado de forma a causar prejuízo a outrem; (2º) porque a pessoa que tenha usado de uma prerrogativa legal, para prejudicar consciente ou inconscientemente aos outros, não usou dessa prerrogativa, como se impunha que o fizesse. Ao destinar o exercício de um direito a um fim que não era o legítimo fim que o direito previa, terá abusado desse direito.”[18]
Quando alguém se utiliza de um direito dentro das prerrogativas que lhe são conferidas, estará usando o seu direito. Comete, porém, abuso que exceder tais prerrogativas.
Dessa forma, verifica-se que, mesmo no exercício do seu direito, uma pessoa pode causar dano a outrem, situação em que fica obrigada a efetuar a reparação devida.
Como norma de convivência social, a ordem jurídica assegura ao indivíduo exercer o seu direito subjetivo, sem que tal exercício possa causar a alguém um mal desnecessário. O problema existe quando se procura estabelecer o limite da regularidade ou a linha demarcatória entre o uso do direito e o abuso do direito.
Alvino Lima, expondo seu pensamento a respeito do abuso de direito e citando De Page, esclarece:
“A teoria do abuso de direito veio alargar o âmbito das nossas responsabilidades, cerceando o exercício dos nossos direitos subjetivos, no desejo de satisfazer melhor equilíbrio social e delimitar, tanto quanto possível, a ação nefasta e deletéria do egoísmo humano. Como corretivo indispensável ao exercício do direito, ela veio limitar o poder dos indivíduos, mesmo investidos de direitos reconhecidos pela lei, conciliando estes direitos com os da coletividade.”[19]
Comentando os critérios identificadores dos atos abusivos, Maria Helena Diniz afirma:
“Para assinalar os atos abusivos que possam acarretar responsabilidade civil, os autores concentram sua atenção em três critérios: a) intenção de lesar outrem, ou seja, no exercício de um direito com o intuito exclusivo de prejudicar, que deverá ser provado por quem alega; b) ausência de interesse sério e legítimo; c) exercício do direito fora de sua finalidade econômica e social. (...)”.[20]
Quem age com abuso de direito responde pelos atos que praticar. Citando os casos de responsabilidade resultantes do exercício abusivo de direito, esclarece ainda Maria Helena Diniz:
“Caem na órbita do abuso de direito, ensejando, obviamente, a responsabilidade civil:
a) Os atos emulativos ou ad emolutionem, que são os praticados dolosamente pelo agente, no exercício formal de um direito, em regra, o de propriedade, com a firme intenção de causar dano a outrem e não de satisfazer uma necessidade ou interesse de seu titular;
b) Os atos ofensivos aos bons costumes ou contrários à boa-fé, apesar de praticados no exercício formal de um direito, constituem abuso de direito. (...)
c) Os atos praticados em desacordo com o fim social ou econômico do direito subjetivo. Como o direito deve ser usado de forma que atenda ao interesse coletivo, logo haverá ato abusivo, revestido de iliceidade de seu titular, se ele o utilizar em desacordo com a finalidade social. Assim, se alguém exercer direito, praticando-o com uma finalidade contrária a seu objetivo econômico ou social, estará agindo abusivamente (...).”[21]
O abuso do direito não se circunscreve no âmbito do direito material.
A lei processual não dá condição de ação a quem não tem interesse processual. Se este consiste em ir a juízo quando há necessidade e utilidade que o provimento jurisdicional propicia, comete abuso de direito quem, sob o pretexto de ter em seu favor o direito constitucional de pleitear em juízo, o faz sem interesse, mas, apenas, por espírito de emulação ou vingança.
1.7. Responsabilidade por fato de terceiro
A responsabilidade por fato de terceiro surge quando o dano é praticado por alguém de quem se é responsável e encontra fundamento no art.932 do Código Civil, in verbis:
“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.”
Conforme preleciona Maria Helena Diniz:
“(...) na responsabilidade por fato de terceiro alguém responderá, indiretamente, por prejuízo resultante da prática de um ato ilícito por outra pessoa, em razão de se encontrar ligado a ela, por disposição legal. Há dois agentes, portanto: o causador do dano e o responsável pela indenização.”[22]
O fundamento da responsabilidade por fato de terceiro reside na culpa in iligendo ou na culpa in vigilando, dependendo do caso. Dessa forma, uma pessoa pratica o dano, e outra por ela responsável é que tem a obrigação de indenizá-lo, uma vez que não exerceu de forma correta o dever de fiscalização e vigilância sobre aquelas, invocando-se para tanto, a presunção juris tantum de culpa do agente.
1.8. Responsabilidade do estado
Sendo responsáveis todas as pessoas físicas ou jurídicas que causam dano, cabe indagar qual é a responsabilidade do Estado com as peculiaridades que lhes são próprias.
Sempre oportuna a lição de Carlos Alberto Bittar:
“Dentre as pessoas jurídicas de direito público, podem figurar como responsáveis os entes da administração direta, ou da indireta, como autarquias, empresas públicas e de economia mista e os serviços institucionalizados de cooperação com o Poder Público, como os da área da assistência social e da educação. Ajuntam-se a esse quadro de responsáveis as fundações públicas, que também arcam, por si, com os efeitos de fatos danosos, e as entidades concessionárias de serviços públicos, ou mesmo permissionárias, ou seja, aquelas que prestam serviços de interesse público, diante de contratos ou de atos administrativos, com relação aos eventos a elas referentes, e sem prejuízo de responsabilização indireta do Estado.”[23]
O Estado, assim, pode perfeitamente ser responsabilizado pelos danos pessoais causados diretamente por seus agentes, bem como pelos cometidos por terceiros a quem delegou a realização da tarefa.
Carlos Alberto Bittar distingue tecnicamente a posição do Estado enquanto ente político e a das demais pessoas jurídicas de direito público, sujeitas à responsabilidade objetiva pelos atos praticados (Constituição da República, art. 37, § 6º), e como empresa, seja como detentor da totalidade do capital social, seja como controlador, em que impera o mesmo regime de responsabilidade das empresas privadas (CR art. 173, § 1º).[24]
Na primeira posição encontram-se, também, as autarquias e os partidos políticos, submetendo-se às mesmas regras de responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos.
Dessa forma, centra-se no ente público a responsabilidade pelos danos morais causados, tanto diretamente quanto indiretamente (por permissionários ou concessionários).
O Estado, assim, deverá indenizar o lesado pelo dano sofrido, em virtude da responsabilidade objetiva a que está sujeito, independentemente de dolo ou culpa.
Será possível, porém, ação de regresso contra o agente causador, desde que provada a respectiva culpa.
2. AS ORIGENS DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL
2.1 Código de Hamurabi
Conta-nos a história que o dano moral, ainda que de forma muito primitiva, já constava no Código de Hamurabi, surgindo na Mesopotâmia. Tinha como princípio a garantia do oprimido, o mais fraco, e nesse ponto Hamurabi, rei da Babilônia, também conhecido por Kamo Rabi, mostrava preocupação para com seu povo.
Consta do referido código 282 dispositivos legais, que são conhecidos hoje por intermédio de uma versão escrita em forma de cunha, que cobre uma pedra de basalto encontrada em Susa, no Irã. Dizem os historiadores que esta pedra teria sido levada para lá por volta de 1100 a.C. Hoje esta pedra encontra-se guardada no Museu de Louvre. Uma verdadeira raridade, fruto de nossos antepassados.[25]
Hamurabi aparece recebendo as leis do deus do Sol. A inscrição começa assim dizendo:
“Como Anu, o sublime, o rei Anukak, e Bel, o Senhor do céu e da terra, que fixa o destino dos homens, e Marduk, o filho do Senhor Ea, o deus do Direito, repartiu a humanidade terrena ... assim Anu e Bel me designaram, a mim, Hamurabi, o alto Príncipe, temeroso de Deus, para dar valor ao Direito na terra, aniquilar os maus e perversos, com o que o forte não prejudica o fraco ... e para iluminar o mundo e procurar a felicidade dos homens. Como Marduk me enviou para governar os homens e para proteger o Direito dos povos, assim hei de realizar o Direito e a Justiça e procurar a felicidade dos súditos.
O Rei é considerado como a suprema garantia da lei e do direito; mas o direito está acima do arbítrio do Rei. Em uma antiqüíssima tábua babilônica lê-se que ‘o rei pratica o direito conforme a escritura dos deuses’. E assim lhe concedem os grandes deuses um governo duradouro e a glória de Justiça. Se o Rei ordena castigar um vizinho da cidade de Sippara e o premia como escravo, o deus do Sol, que rege o céu e a terra, porá outro juiz em seu povoado e designará um príncipe justo e um juiz justo para substituir o injusto.”[26]
Calha lembrar que o Código de Hamurabi é colocado por muitos como o mais antigo que se tem notícia no mundo do Direito, com formação de corpo de leis. Para Veit Valentin[27] o Código de Hamurabi foi o primeiro na história em que predominaram idéias claras sobre direito e economia.
Hamurabi demonstrava profunda preocupação com os lesados, destinando-lhe reparação exatamente equivalente (insustentável nos dias de hoje). Era a regra “olho por olho, dente por dente”, a forma de reparação do dano causado, conforme se verifica pela dicção dos parágrafos 196, 197 e 200 do Código, transcritos na brilhante obra de Clayton Reis[28], acompanhados com a indispensável tradução. Vejamos:
“§ 196. ‘Se um awilum destruir um olho de (outro) awilum destruirão seu olho’.”
A expressão DumuA-Wi-Lum, “filho de awilum”, indica aqui alguém que pertence à classe dos awilum.
A lei determina que, se o agressor e o agredido pertencem à mesma classe social, seja aplicada a pena de talião: “olho por olho”.
“§ 197. Se quebrou o osso de um awilum: quebrarão o seu osso.”
§ 200. “Se um awilum arrancou um dente de um awilum igual arrancou um dente de um awilum igual a ele arrancarão o seu dente.”
Referido código também definia outra modalidade de reparação do dano, com pagamento em pecúnia, trazendo nos primórdios a idéia da compensação da dor, denunciando “um começo da idéia de que resultou modernamente a chamada teoria de compensação econômica, satisfatória dos danos extrapatrimoniais”.[29], posto que lançado o dano de ordem moral, não era mais possível repor ao lesado o status quo ante, e sim lhe compensar a dor.
Nesta ordem, vejamos os parágrafos 209, 211 e 212, também transcritos por Clayton Reis[30]:
“§ 209. Se um homem livre (awilum) ferir o filho de um outro homem livre (awilum) e, em consequência disso, lhe sobrevier um aborto, pagar-lhe-á 10 ciclos de prata pelo aborto.
§ 211. Se pela agressão fez a filha de um Muskenun expelir o (fruto) de seu seio: pesará cinco ciclos de prata (o que corresponde a mais ou menos 40 g de prata.)
§ 212. Se essa mulher morrer, ele pesará meia mina de prata. (equivalente a 250 g de prata).”
Os dispositivos legais existentes à época do reinado de Hamurabi, demonstram ter sido altamente eficazes para o seu tempo, encontrando reflexos em outros sistemas de leis de civilizações anteriores, porém, certamente não resistiriam às mudanças que o futuro se encarregaria de estruturar.
2.2 As Leis de Manu
Os historiógrafos acusam a existência de corpos legislativos advindos das antigas civilizações, atribuindo-lhes, por conseguinte, o nome de códigos, acompanhando a denominação dos códigos modernos. Em verdade, o que está registrado no subconsciente destes historiadores é o anteriormente mencionado Código de Hamurabi.
Existiu na Índia antiga um personagem mítico. Manu (Manu Vaivasvata), que era muitíssimo respeitado pelos brâmanes (membros da mais alta das castas hindus, a dos homens livres), motivo por que sua obra legislativa era de significativa importância, tendo sido denominada: O Código de Manu. Sua figura, para muitos, permanece lendária.
Manu, apesar de elaborar textos jurídicos, era muito religioso, tendo sido considerado o pai do Hinduísmo, e que até os dias de hoje é a religião predominante nos povos indianos. Com sua influência religiosa e política à época. Manu registra o feito de ter conseguido promover a organização geral da sociedade. Daí a importância desta figura lendária até os dias de hoje, justificando sua admiração pelos indianos, que sabemos, guardam profundas raízes medievais.
O Código de Manu demonstrou profundo e indiscutível avanço em relação ao de Hamurabi, visto que tratava a reparabilidade do dano em pecúnia, muito diferente deste que ainda trazia a lesão reparada por outra lesão de igual valor.
Como se percebe, Manu apresentou características de ética social, pois, com a reparação em valor pecuniário, impedia que o transgressor fosse alvo de vingança, interrompendo o período de desforra por parte das vítimas[31]. Assim, pôs fim à vingança, que, convenhamos, é peculiar às almas mesquinhas. Partilho integralmente do entendimento do jurista já citado Clayton Reis, que afirma tratar-se de um sentimento cristão:
Na Grécia, a Odisséia de Homero pinta os gritos retumbantes de Hefesto, o marido enganado, que surpreendera no próprio leito a infiel Afrodite e o formoso Ares, a provocar uma assembléia de deuses, que, atendendo aos reclamos do coxo ferreiro, decretaram, a seu favor, o pagamento por Ares, de pesada multa. Manifesta assim claramente um caso de reparação de danos morais resultante de adultério. Ésquines repreendeu publicamente Demóstenes por ter recebido de Mídias uma certa porção em dinheiro, em pagamento de uma bofetada.”[32]
As reflexões não poderiam ser mais sugestivas, posto que o perdão das ofensas, como todos sabem, é pregado pelo Cristianismo, indicando o caminho da paz, quer entre os indivíduos, quer entre as nações.
O Código abrangia os campos comercial, civil, penal, laboral e outros, trazando, em seu bojo, forma de administração da Justiça, meios de prova e formas de julgamento, impondo uma penalidade aos juízes ou ministros responsáveis pela condenação injusta do inocente. O rei era quem aplicava a penalidade em face dos possíveis erros judiciários.
2.3 Egito
No Egito, a figura do faraó era respeitadíssima, pois seu poder era absoluto. Tinha como características o rigor com que se cumpria as leis, sem qualquer piedade de seus súditos.
O Poder do faraó era tão absoluto que dispunha até da vida de seus súditos, bem como exigia exageradamente de sua força de trabalho para construir túmulos e templos, chegando muitos a morrerem durante suas construções, tamanha a exigência de seus esforços. Sabe-se ainda que aqueles que construíram tais pirâmides, se ao final sobrevivessem, eram mortos para não desvendarem os segredos de tamanhos mistérios, que até os dias de hoje causa espanto ao mundo, quando são descobertas novas tumbas e novas passagens secretas.
As leis eram excessivamente rígidas, por influência dos sacerdotes, que cuidavam de iniciar os enigmas da religião ao próprio faraó, condição essa indispensável para subir ao trono.
Em verdade, o faraó abusava de seu poder absoluto, punindo de forma rigorosa e desumana os culpados.[33]
As pirâmides e as ruínas dos templos atraem milhares de pessoas. Nos museus, elas ficam maravilhadas diante das formas graciosas das estátuas e das múmias cuidadosamente preparadas, há muito tempo, para a vida após a morte. É a curiosidade quanto às descobertas e às novas idéias sobre uma das civilizações mais esplêndidas e duradouras do mundo antigo. Certamente ainda restam muitos mistérios a serem desvendados sobre a riqueza desta civilização, que somente o tempo e as contínuas pesquisas entre as ruínas poderão decifrar.
2.4 China
A história da civilização chinesa não foi marcante quanto a existência de leis, isso porque sempre foram, por características, pacifistas, não tendo registro de questões alarmantes de ofensa ao ser humano.
A história chinesa foi muito rica no aspecto filosófico, tendo como protagonistas, Confúcio e Lao-Tse, que com suas inteligências, pregaram incansavelmente o respeito ao próximo.
Arremata Clayton Reis:
“Na China, no período que se aproxima à civilação assíria, o sistema de leis era essencialmente monárquico: a figura central do Imperador, com os poderes de vida e morte sobre os seus súditos. Houve períodos brilhantes da sua história, com homens notáveis, como Kung-Tse (Confúcio) e Lao-Tse, que humanizaram o espírito chinês. ‘Não faças a outrem o que não queres que te façam’, dizia Confúcio. ‘Retribui inimizade com benefícios’, afirmava Lao-Tse. Inobstante a civilização chinesa fosse rica em conteúdo filosófico e em organização política, em certos períodos da sua história não há elementos preponderantes que destaquem a sua estrutura legislativa”
2.5 Grécia
A Grécia assumiu um papel importante na história do homem, tendo seu sistema jurídico atingido pontos elevados, graças aos seus grandes pensadores.
Foi, sem dúvida, na Grécia que se ouviu falar, pela primeira vez, em civilização e democracia; elementos importantes, e que certamente influenciaram as civilizações que estavam por vir, sobretudo na antiga Roma.
As leis, instituídas pelo Estados, davam ao cidadão a necessária proteção jurídica, sendo que a reparação do dano era pecuniária, demonstrando com isso, sua importante parcela na construção da proteção ao ser humano.[34]
2.6 Roma
Os romanos, tinham uma profunda preocupação com a honra, dizendo que a honesta fama est alterium patrimonium (a honesta fama é outro patrimônio). Sem dúvida, a honra é um patrimônio representado pela boa conduta. Daí a reflexão dos romanos ao dizer: est praerogativa quaedam ex vitae morunque probitate causata (a honra é uma prerrogativa motivada pela probidade da vida e dos bons costumes).
Ulpiano, protagonista dos preceitos Jus Naturale (Direito comum a todos os seres), tais como: “Suum cuique tribuere”, “Honeste Vivere”, e, “Alterum non leadere”, demonstrava sua consciência do conceito de justiça, baseado no “dar a cada um o que é seu”, “viver honestamente”, e, “não lesar outrem”.[35] Como se vê, naturalmente, não se permitia a lesão no Direito Romano.
A parti daí, com a vinda da norma, todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio ou à honra, demandava a conseqüente reparação, por intermédio do “Jus Scriptum” (Direito Escrito).
A responsabilidade civil no Direito Romano, diga-se de passagem, obedecida à seguinte subdivisão: A Lex das XII Tábuas – “Lex duodec tabularum” (ou também Lex Decenviralis) (450 a.C.), A Lex Aquilia (286 a.C.) e a Legislação Justiniana (528/534 a.C.), que por sua vez subdividia-se em As Institutas, “O Codex Justinianus” e o “Digesto”.
Os romanos, vítimas de injúria, utilizavam-se da ação pretoriana denominada injuriarum aestimatoria, pleiteando a reparação em dinheiro, que por sua vez ficava ao arbítrio do juiz, o qual deveria sopesar todas as circunstâncias e fatores para fazê-lo de forma moderada. O objetivo era separar e proteger os interesses do vitimado..
Prova dessa proteção à vítima, encontramos na Lei das XII Tábuas (Lex duodec tabularum). A Tábua VII – De delictis, consagra-a, com o seguinte texto:
“§ 1º Se um quadrúpede causa qualquer dano, que o seu proprietário indenize o valor desses danos ou abandone o animal ao prejudicado.
§ 2º Se alguém causa um dano premeditadamente que o repare;
§ 3º Aquele que fez encantamentos contra a colheita de outrem;
§ 4º Ou a colheu furtivamente à noite antes de amadurecer ou a cortou depois de madura, será sacrificado a Ceres;
§ 5º Se o autor do dano é impúbere, que seja fustigado o critério do pretor e indenize o dobro;
§ 6º Aquele que fez pastar o seu rebanho em terreno alheio;
§ 7º E o que intencionalmente incendiou uma casa ou um monte de trigo perto de uma casa, seja fustigado com varas e em seguida lançado ao fogo;
§ 8º Mas, se assim agiu por imprudência, que repare o dano; se não tem recursos para isso, que seja punido menos severamente do que se tivesse intencionalmente;
§ 9º Aquele que causar dano leve indenizará 25 asses;
§ 10. Se alguém difama outrem com palavras ou cânticos, que seja fustigado;
§ 11. Se alguém fere a outrem, que sofra a pena de Talião, salvo se houver acordo;
§ 12. Aquele que arrancar ou quebrar um osso a outrem deve ser condenado a uma multa de 300 asses, se o ofendido é homem livre; e 150 asses, se o ofendido é um escravo;
§ 13. Se o tutor administra com dolo, que seja destituído como suspeito e com infâmia; se causou algum prejuízo ao tutelado, que seja condenado a pagar o dobro ao fim da gestão;
§ 14. Se um patrono causa dano a seu cliente, que seja declarado a... (podendo ser morto como vítima devotada aos deuses);
§ 15. Se alguém participou de um ato como testemunha ou desempenhou nesse ato as funções de libripende, e recusa dar o seus testemunho, que recaia sobre ele a infâmia e ninguém lhe sirva de testemunha;
§ 16. Se alguém profere um falso testemunho, que seja precipitado da rocha Tarpéia;
§ 17. Se alguém matou um homem e empregou feitiçaria e veneno, que seja sacrificado com o último suplício;
§ 18. Se alguém matou o pai ou a mãe, que se lhe envolva a cabeça, e seja colocado em um saco costurado e lançado ao rio.
Pelos capítulos citados, não restam dúvidas que os romanos reparavam o dano através da pena pecuniária, embora houvesse resquícios da pena de Talião, encontrada na referida Lei das XII Tábuas, através do § 11 da mesma Tábua VII: “Se alguém fere a outrem, que sofra pena de Talião, salvo se existiu acordo” (Si, membrum rupsit, ni cum eo pacit, tálio esto).
Como se nota, os romanos tinham noções sólidas do dano moral, e é inegável seu aperfeiçoamento ao longo dos séculos, tendo repercussões nos aspectos históricos dos danos morais na Itália, Alemanha e na França, conforme nos ensina Clayton Reis[36].
3. CONCEITO DE DANO MORAL
Muitos são os conceitos acerca desse instituto. O setor doutrinário-civil é vasto e de imenso potencial.
Traremos rapidamente alguns conceitos de notáveis autores.
Wilson de Melo da Silva, um dos mais citados em todas as obras, citado por Clayton Reis, define o dano moral como:
“Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito e sem patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.”[37]
Na seqüência, o valioso e sintético conceito de Orlando Gomes: “é a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem.”[38]
José de Aguiar Dias define dano moral como “as dores físicas ou morais que o homem experimenta em face da lesão.”[39]
Por fim, Ricardo Cunha Porto leciona:
“Deve-se entender por dano moral, a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja a dor física, dor-sensação, nascida de uma lesão material; seja a dor moral, dor-sentimento, nascida de causa material, como o abalo do sentimento de uma pessoa, provocando-lhe dor, tristeza, desgosto, depressão, enfim, perda da alegria de viver.”[40]
O dano moral é um assunto de rigorosa atualidade e de uma forte tendência ao crescimento. É sabido que qualquer pessoa munida de um mínimo de discernimento jurídico saberá dizer o que ele seja, mas se perguntarmos sua definição, as dificuldades certamente surgirão. Por isso, concordamos com a afirmativa do Professor Celso Bastos, de que toda conceituação é muito perigosa, sobretudo a de dano moral.
4. ASPECTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO DANO MORAL
O silogismo da reparabilidade do dano moral tem como premissa básica a noção de dignidade humana e a clara delineação dos direitos da personalidade. Mas isso não significa dizer que devem estar exaustivamente previstos todos estes, o que se revela, de fato, impossível, considerada a natureza desses direitos.
Não obstante essa impossibilidade de sistematização e classificação imposta pela própria natureza dos direitos derivados da pessoa humana, GABBA[41] e, mais tecnicamente, BREBBIA ousaram classificar os danos morais, em síntese, em duas modalidades: a primeira compreende aqueles advindos da violação dos direitos inerentes à personalidade que tutelam os bens integrantes do aspecto objetivo ou social do patrimônio moral, nela se inserindo a honra, nome, honestidade, liberdade de ação, pátrio poder, fidelidade conjugal e estado civil; e a segunda, pertinente ao aspecto subjetivo da esfera moral desses mesmos direitos, inclui as afeições legítimas, segurança pessoal e integridade física, intimidade, direito moral do autor sobre sua obra e valor afetivo de certos bens patrimoniais.[42] [tradução livre do autor]
Por sua vez, CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO[43] se opõe veemente à classificação do dano moral e afirma, ao comentar as tendências do direito quanto à proteção da pessoa, que a estrutura existencial da pessoa, ao exigir, por sua própria natureza, uma proteção unitária e integral, não admite seja fracionada, parcelada em uma multiplicidade de aspectos, desconexos uns dos outros, cada um dos quais se apresentando como um interesse juridicamente tutelável de modo autônomo e independente.
Ainda sob o enfoque conferido por SESSAREGO, a simultânea presença de uma pluralidade, sempre crescente, de direitos da pessoa, não pode reclamar uma plural sustentação. Cada um dos direitos da pessoa não pode estar fundamentado, autonomamente, em um interesse parcial e fragmentário a ser tutelado, sem referência à incindível unidade representada pela pessoa humana. Por isso, toda possível tutela a algum determinado aspecto da rica e complexa personalidade está em relação com o próprio ser da pessoa, no quanto representa seu único e exclusivo fundamento.
Conclui, assim, o Professor que a posição pluralista se aparta da realidade, ao atomizar e decompor, com multiplicidade de aspectos autônomos, o que é realmente uma unidade ontológica. Alheia-se, ainda, quando pretende tutelar, isoladamente, cada um dos aspectos da personalidade, desligado de toda referência à unidade existencial da pessoa, com a pretensão de encontrar, também, em cada um deles, de modo desconexo, seu próprio fundamento.
A experiência histórica denota, segundo SESSAREGO, pelo contrário, que os direitos da pessoa, ao invés de independentes, são interdependentes e se acham, entre si, calcados em um mesmo e único fundamento, que é o valor ontológico da pessoa humana. Sua vinculação é essencial. Bastaria citar como exemplo o caso do direito à imagem, que se encontra em íntima conexão com inenarrável gama de direitos, como a identidade, honra e intimidade. Confluem, portanto, na pessoa humana um sem número de interesses que podem ser conceitualmente isolados, regulados e estudados, sem que isso signifique que todos eles não mantenham entre si um elo, um eixo, um ponto em comum de referência que, ao servir-lhes como fundamento único, outorgue um sentido solidário e unitário.
Abstraindo-se à questão relativa à divisão dos direitos da personalidade e sua tutela de forma isolada, a doutrina majoritária, ao classificar os danos em materiais e morais (ou patrimoniais e extrapatrimoniais), observa, tão-somente, a esfera jurídica atingida pela conduta lesiva.
Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar sistematiza:
“a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) são pessoais os danos relativos ao próprio ente em si, ou em suas manifestações sociais, como, por exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo – componentes físicos –, ou ao psiquismo – componentes intrínsecos da personalidade – , como a liberdade, a imagem, a intimidade; c) morais, os relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto.” [44] [sem grifo no original]
O Juiz e Professor revela, ainda, entre outras, a divisão dos danos em puros e reflexos (conforme sejam sentidos direta e apenas na esfera mais íntima da personalidade do lesado ou na hipótese em que, atingida esta, vislumbrem-se, também, danos patrimoniais, caracterizando-se como repercussão de um mesmo fato gerador); e subjetivos ou objetivos (em face de sua projeção na esfera valorativa da vítima ou no seu relacionamento social).[45]
Em que pese ao esforço empreendido pelos doutos, o certo é que, da imensa gama dos direitos tutelados como da personalidade, atados à noção de dignidade humana, deriva a inviabilidade, constatável de plano, de enumeração exaustiva de todas as hipóteses de ocorrência do dano moral e, por via reflexa, a dificuldade de classificação sistematizada.
Cabe, então, ao Magistrado a tarefa de identificar o dano moral no caso concreto, consideradas as circunstâncias e peculiaridades que a hipótese trouxer a lume.
5. O DANO MORAL E O DIREITO BRASILEIRO
Muito já se debateu no direito pátrio sobre a reparabilidade do dano moral. Não só os nossos tribunais, mas também a doutrina, de consagrados nomes, por muito tempo relutaram em aceitar a possibilidade, ao sustentarem, como visto, que a dor e o sofrimento da vítima não têm preço capaz de ser estimado.
Com o passar dos anos, contudo, não havendo legislação expressa a respeito, começou a amadurecer e prevalecer entre os doutos a necessidade da reparação. A discussão, então, passou a residir nos fatos que poderiam ensejá-la.
Antigo acórdão do Excelso Pretório, ao interpretar o art. 1537 do Código Civil de 1916, chegou à conclusão de não ser indenizável o valor afetivo exclusivo:
“Nem sempre dano moral é ressarcível, não somente por se não poder dar-lhe valor econômico, por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque essa insuficiência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que provoquem aleijões, no caso de valor afetivo coexistir com o moral, no caso de ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor moral pela forma estabelecida pelo Código Civil. No caso de morte de filho menor não se indeniza o dano moral se ele não contribuía em nada para o sustento da casa.”[46]
Extrai-se, ainda, do texto jurisprudencial colacionado que no valor da reparação por dano material já deveria estar embutido o valor correspondente ao dano moral.
Esse posicionamento acabou sendo derrogado ante os insistentes reclamos doutrinários, que fizeram despertar naqueles julgadores a sensibilidade outrora inexistente, em face da nova realidade social, inspirados na necessidade de proteção mais contundente aos interesses morais, tão açodadamente feridos pelas contingências da vida moderna.
À época, quando vigia o Código Civil de 1916, dizia Agostinho Alvim:
“Em doutrina pura, quase ninguém sustenta hoje a irreparabilidade dos danos morais. É assim que a obrigação de reparar tais danos vai se impondo às legislações, mais ousadamente aqui, mais timidamente ali, já se admitindo a reparação, como regra, já, somente, nos casos expressamente previstos”. [47]
E, ressalvava, ainda: “O sentimento de justiça impulsiona no sentido de admitir-se a indenização por dano moral; mas, a dificuldade da aplicação da teoria aos casos ocorrentes faz retroceder”.[48]
Todavia, alertava, outrossim:
“O nosso legislador não inseriu no Código uma regra sobre dano moral, nem mesmo, como certos Códigos, para conceder a indenização em casos previstos. Nenhuma norma de caráter geral. No art. 1543 prevê-se um caso. Outros dispositivos há, de caráter casuístico, melhor direi, discutíveis. Mas, ainda mesmo que se enxerguem casos de indenização por dano moral em várias disposições, nenhuma generalização é possível, donde, o mais que se pode conceber, é que o Código se filiou à doutrina dos casos previstos em lei.”[49]
Parte da doutrina contestava essa posição, ao argumento de que o próprio caput do art. 76 do Código Civil de 1916 afirmava textualmente: “Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico, ou moral”.
Clóvis Beviláqua, entretanto, ao comentar sua obra, ministrou, com sua clareza costumeira lição sobre o verdadeiro alcance da regra contida no referido dispositivo:
“Se o interesse moral justifica a ação para defendê-lo ou restaurá-lo, é claro que tal interesse é indenizável, ainda que o bem moral se não exprima em dinheiro. É por uma necessidade dos nossos meios humanos, sempre insuficientes, e, não raro, grosseiros, que o direito se vê forçado a aceitar que se computem em dinheiro o interesse de afeição e os outros interesses morais.”[50]
Ao omitir-se sobre o tema, o Código Civil revogado viu surgir calorosa discussão acerca da reparabilidade dos danos morais, havendo, contra a possibilidade de reparação por dano não patrimonial, argumentos que variavam desde a alegação de “impossibilidade de uma rigorosa avaliação pecuniária do dano moral, passando pela imoralidade da compensação da dor com dinheiro e chegando ao perigo de enriquecimento sem causa”[51]
Até então, o lesado poderia ir buscar algum tipo de reparação na legislação anterior, que, embora esparsa e nem sempre clara, permite, ainda hoje, o embasamento na sustentação do pedido indenizatório. Reporto-me, além do comentado art. 76 do Código Civil, que legitimava a ação, aos artigos 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4417, de 27.8.1962)[52]e 53 da Lei de Imprensa (Lei 5250/67)[53].
Também das hipóteses casuísticas estampadas no Código Civil Brasileiro de 1916, a exemplo dos artigos 1537, 1538, 1543, 1548, 1549 e 1550, tornou-se permitido induzir a existência no sistema jurídico pátrio de um princípio geral de reparabilidade do dano moral. O berço desse princípio, entretanto, é a exegese literal do art. 159 daquele Codex, cuja aplicação não se encontra restrita aos danos patrimoniais, já que da letra da lei não decorre qualquer distinção – ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
Apesar de a positivação da reparabilidade do dano moral ter recebido, em nosso sistema jurídico, inspiração na construção doutrinária e pretoriana, não se pode deixar de valorá-la como conquista em termos de direitos e garantias fundamentais.
Os incisos V e X do art. 5o da Constituição da República promulgada em 1988 cristalizaram o brocardo advindo do Direito Romano, pilar da teoria da responsabilidade civil – neminem laedere – e positivaram a reparabilidade do dano moral no sistema normativo pátrio. O primeiro assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, acrescentando que esta deva ocorrer “além da indenização por dano material, moral ou à imagem”; o segundo, ao cuidar da inviolabilidade da intimidade, honra e imagem das pessoas, assegura-lhes “o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
Embora pela doutrina prevalente o preâmbulo constitucional não tenha valor jurídico, consoante a tese capitaneada pelo Ministro Celso De Mello; sob a luz da teoria positivista de Hans Kelsen, há os que defendam, liderados pelo Ministro Cernicchiaro, que aquele integra e resume a própria Constituição, não se lhe podendo, assim, contrariar as diretrizes. Sob uma ou outra ótica, no entanto, não resta dúvida de que, desde o referido texto, o constituinte reafirmou valores como liberdade e igualdade, solidificando a intenção, posteriormente concretizada, de atribuir chancela constitucional a direitos individuais como a honra.
Todavia, a Constituição da República nada mais fez, segundo majoritária corrente, do que explicitar e garantir o que já se havia positivado como princípio geral, mas, inexoravelmente, espancou de vez qualquer dúvida a respeito da possibilidade de reparação do dano moral.
Nessa esteira de raciocínio, manifesta-se Yussef Said Cahali: “a Constituição de 1988 apenas elevou à condição de garantia dos direitos individuais a reparabilidade dos danos morais, pois esta já estava latente na sistemática legal anterior; não sendo aceitável, assim, pretender-se que a reparação dos danos dessa natureza somente seria devida se verificados posteriormente à referida Constituição”.[54]
Mas, não se pode negar, a Constituição da República de 1988 trouxe o sol a clarear todos os possíveis cantos obscuros que poderiam afastar a possibilidade da reparação moral. Foi a partir dela que os Tribunais pátrios abraçaram definitivamente a reparabilidade do dano moral.
Após o advento da Constituição de 1988, que, como visto, positivou o silogismo criado pela doutrina e jurisprudência, sobreveio, trazendo maior lume a até então acinzentada temática, o enunciado da Súmula no 37 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que expressamente admite a cumulação de reparações por danos material e moral oriundos do mesmo fato.
Atualmente, integra, ainda, o ordenamento jurídico a respeito o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, que, nos seus incisos VI e VII, a este assegura, como direito básico, “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais...” e “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais”, respectivamente.
Acompanhando a inovação constitucional, de suma importância o tratamento dispensado ao dano moral pelo Código Civil em vigor hoje, que traz em seu artigo 186 o reconhecimento expresso da existência de dano moral ao dispor, verbis: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" [grifo nosso].
O supracitado artigo, em conjunto com o artigo 927 do referido diploma legal encerra qualquer argüição existente sobre a não reparabilidade de dano reputado como moral, constituindo-se em verdadeira inovação em nosso ordenamento.
Assim e de acordo com Sílvio Venosa, as antigas objeções encontram-se hoje superadas, não podendo, a dificuldade de avaliação, em qualquer situação, ser obstáculo à indenização.[55]
Na verdade, o Direito brasileiro, ao proteger a dor moral, protege o mais inalienável dos direitos, ou seja, a própria vida, haja vista que esta, da forma como constitucionalmente foi compreendida, vai muito além daquela considerada apenas no seu sentido biológico.
A propósito, conforme ressalta o Professor José Afonso Da Silva: “A vida humana, que é o objeto do direito assegurado no art. 5o, caput, integra-se de elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais). [...] No conteúdo de seu conceito se envolvem o direito à dignidade da pessoa humana [...], o direito à privacidade [...], o direito à integridade físico-corporal, o direito à integridade moral e, especialmente, o direito à existência.”[56]
E continua o Mestre:
“A vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais. Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os morais. A Constituição empresta muita importância à moral como valor ético-social da pessoa e da família, que se impõe ao respeito dos meios de comunicação social (art. 221, IV). Ela, mais que as outras, realçou o valor da moral individual, tornando-a mesmo um bem indenizável (art. 5o, V e X). A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela e seus componentes são atributos sem os quais a pessoa fica reduzida a uma condição animal de pequena significação. Daí por que o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental.” [sem grifo no original][57]
Portanto, enraizada, a reparabilidade do dano moral no sistema normativo brasileiro e na própria Carta Política, tem-se como certa a sua aplicabilidade em face de qualquer “lesão injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito”[58], como necessidade natural da vida em sociedade, conferindo guarida ao desenvolvimento normal de todas as potencialidades de cada ente personalizado.
6. O FUNDAMENTO E O OBJETIVO DA REPARAÇÃO
É condição necessária para a vida social que, ao escolher as vias pelas quais atua na sociedade, o homem assuma os ônus de sua condição de ser inteligente e livre.[59]
Na verdade, muito embora não se possa deixar de expor a questão pertinente ao fundamento da reparação do dano moral, é de se salientar a desnecessidade de mergulho mais profundo na matéria, pois a razão maior da imposição do dever de indenizar o dano moral em tudo se identifica com aquela à qual se submete a reparação do dano material, ante a unicidade ontológica que alicerça a responsabilidade civil: o princípio geral da obrigação de não lesar – neminem laedere.
O traço diferencial entre a reparação do dano de cunho econômico e a do dano moral reside no fato de que a sanção afeta ao segundo não se resolve em indenização, porque não há o retorno ao status quo ante. A reparação, nesse caso, não é de cunho satisfativo, enquanto que, diante do dano patrimonial (stricto sensu) há indenização propriamente dita, pois ocorre a eliminação do prejuízo e das conseqüências da conduta lesiva.
O Mestre Yussef Said Cahali, em sua festejada obra Dano Moral, preconiza a respeito:
“Diversamente, a sanção do dano moral não se resolve numa indenização propriamente, já que a indenização significa eliminação do prejuízo e das suas conseqüências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz através de pagamento de uma certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfatória.”[60]
Assim, com relação à função própria da indenização por dano moral, há de se dar o devido destaque.
Divide-se ela em três aspectos distintos: compensatório, sancionador e pedagógico.
O primeiro repousa – atualmente com larga mansidão – na necessidade de minimizar os sacrifícios suportados por força dos danos ocorridos ou, quiçá, de reconstituir a situação pessoal.
A doutrina, em passado próximo, envolveu-se na discussão acerca da impossibilidade da reparação, ao argumento de que seria inaceitável a atribuição de preço à dor – pretium doloris.
Entre os que repeliram enfaticamente tal entendimento, nosso jurisconsulto Carvalho De Mendonça. Assinala, com a sabedoria que lhe é própria:
“[...] existe uma verdadeira logomaquia nesse argumento. Que tal equivalência não existe não há duvidar. Concluir daí para a não-reparação é o que reputamos sem lógica. Realmente, a equivalência não se verifica, nem mesmo entre os meios morais. Nada, pois, equivale ao mal moral; nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente. Nos casos de prejuízo material esta última prepondera; nos de prejuízo moral a função do dinheiro é meramente satisfatória e com ela reparam-se não completamente, mas tanto quanto possível, os danos de tal natureza.”[61]
José Eduardo Callegari Cenci corrobora o posicionamento capitaneado por Carvalho De Mendonça e Caio Mário Da Silva Pereira e afirma que “na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função da equivalência, como, em regra, nos danos materiais, porém, concomitantemente, a função satisfatória é a pena.”[62]
Tem-se que o fim almejado pela reparação do dano moral não é o de reparar, em sentido literal, a dor, pois, esta, a toda evidência, não tem preço; mas, fundamentalmente, aquilatar o valor compensatório apto a amenizar.
Por essa razão é que, ressalta pertinente a conclusão do Professor Wilson Mello Da Silva:
“Reparar, em verdade, o dano moral, seria assim buscar, de um certo modo, a melhor maneira de se contrabalançar, por um meio qualquer, que não pela via direta do dinheiro, a sensação dolorosa infligida à vítima, ensejando-lhe uma sensação outra de contentamento e euforia, neutralizadora da dor, da angústia e do trauma moral.”[63]
A toda evidência, portanto, a dor não é paga, assim como os sentimentos e os sofrimentos pouco se amenizam; entretanto, o ofendido necessita de meios para se recuperar.
E, como muito bem lembra Clayton Reis, citando Alcino De Paula Salazar:
“Com a prestação pecuniária o que se visa não é diretamente extinguir a dor com a aplicação de um preço ou antídoto; não é extraí-la pondo-lhe no lugar a moeda, como ficou esclarecido. O que se faz é outra coisa, é procurar para o lesado um conjunto de sensações agradáveis, motivo de satisfação e de emoções, segundo a sua inclinação e o seu temperamento, de sorte a criar condições que, se não chegam a suprimir o sentimento de pesar, de certo podem atenuá-lo, tornando-o mais suportável e menos prolongado”. [64]
Assim é que, para se minguarem ou amenizarem os sofrimentos, os sentimentos, busca o Direito propiciar ao ofendido o meio adequado e plausível para que se recomponha da dor sofrida. Mas tal “remédio” custa dinheiro, a ser bancado pelo ofensor.
O segundo – aspecto sancionador – causou, no início do percurso da moderna teoria da responsabilidade, significativa polêmica. Argumentava-se sobre a incompatibilidade da imposição de pena com o direito privado. Além disso, alguns estudiosos sequer reconheciam a possibilidade da composição do dano moral, pois afirmavam que a única finalidade da indenização seria a sancionadora. Exemplificativamente, entre estes, Carbonnier, que somente reconhecia a faceta “aflitiva” da reparação e declarava não ser justo que o responsável pelo delito permanecesse livre de sanção; para ele, as perdas e danos, nesse caso, se justificavam como uma espécie de punição de caráter privado, que, no lugar de aproveitar ao Estado, como na retratação do Direito Penal, beneficia a vítima. [65]
Mas, em verdade, hodiernamente, prevalece o entendimento de que o mecanismo protetor da norma geral, que impõe o ressarcimento ou a reparação – neminem laedere – caracteriza-se por sua natureza mista: de um lado compondo danos, de outro impondo certa sanção, pois o próprio dever de indenizar representa obrigação imposta em função do ato ilícito.
Yussef Said Cahali[66], ao abordar a problemática, assevera que, na solução dos interesses em conflito, o direito, como processo social de adaptação, estabelece aquele que deve prevalecer, garantindo-o mediante coerção até mesmo física, preventiva ou sucessiva, que não é desconhecida, também, do direito privado. Assim, pode acontecer que, para induzir alguém a que se abstenha da violação de um preceito, o direito o ameace com a cominação de um mal maior do que aquele que lhe provocaria a sua observância. Nesse caso, ter-se-ia, então – agora segundo Carnelutti – a sanção econômica do preceito.
É certo que o caráter sancionador da reparação em nada se mescla à composição pecuniária que substituiu a vingança privada do Direito Romano, mas não se pode deixar de reconhecer que alguns resquícios ainda não esmaeceram por completo.
Finalmente, o terceiro aspecto – o pedagógico – volta-se não só para o ofensor, mas, também, para toda a sociedade.
Com efeito, a simples possibilidade de condenação na reparação do dano moral, não se pode negar, produz efeitos pedagógicos em relação ao que praticou a ofensa à medida que desestimula a reincidência e alerta a coletividade sobre o resultado negativo da conduta reprovável – quem descumprir o dever de não praticar conduta capaz de provocar no outro a dor moral será punido. Isso, sem dúvida, traz como resultado a diminuição das violações.
Conclui-se, assim, que, a reparação do dano, notadamente o moral, é multifacetada, apesar de num primeiro momento prevalecer o seu aspecto individualista. De muitos colores se reveste sua função. A estes Carlos Alberto Bittar acentua, reportando-se a René Savatier, Giovani Bonilini e Alfredo Minozzi:
“[...] embora sob perspectivas diversas possa ser analisada, resultam como centrais, na teoria da responsabilidade civil, as orientações de que: sob o prisma do interesse coletivo, prende-se ao sentido natural de defesa da ordem constituída e, sob o do interesse individual, à conseqüente necessidade de reconstituição da esfera jurídica do lesado, na recomposição ou na compensação dos danos sofridos. De outra parte, sob o ângulo do lesante, reveste-se de nítido cunho sancionatório, ao impor-lhe a submissão, pessoal ou patrimonial, para a satisfação dos interesses lesados. Serve, também, sob o aspecto da sanção, como advertência à sociedade, para obviar-se a prática do mal.”[67]
Destarte, pode-se vislumbrar que a teoria da reparação civil do dano moral, de modo geral, está calcada em funções de defesa de interesses individuais, a exemplo dos direitos da personalidade, mas sem se desconectar, em momento algum, do escopo maior de servir como instrumento de proteção aos interesses da coletividade.
7. A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DE REPARAR
Sobre a configuração do dever de reparar o dano moral, diverge a doutrina.
Há os que, de um lado, conforme esclarece Cahali, defendem o posicionamento de que a regra geral a ser observada, no plano do dano moral, exige a prova não só de sua ocorrência, mas, também, de sua repercussão moral.[68]
De outro lado, majoritária corrente abraçada por Bittar aponta a responsabilização como decorrente do simples fato da violação, ao fundamento precípuo de que:
“[...] verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos do direito, haja vista que a constatação do alcance do dano constitui fenômeno claramente perceptível a qualquer um, porquanto diga respeito à essencialidade do homem.” [69]
Vale ressaltar que, mesmo entre os opositores desse último posicionamento, é reconhecida a desnecessidade da referida prova em alguns casos, como o dano moral decorrente da perda de pessoa da família, do protesto de título de crédito, da ofensa à honra da mulher e outros.
Os Tribunais pátrios se têm manifestado no sentido de que, diferentemente do que ocorre com o dano material, para que se configure o dano moral, não há se cogitar da prova do prejuízo.
Portanto, embora alguns juristas de renome defendam, por vezes, posicionamento diverso, tem prevalecido na jurisprudência a idéia de que basta a constatação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor para se fazer presente o dever de indenizar.
Considera-se que a indenização devida em face da lesão praticada aos direitos da personalidade, por se relacionar ao sofrimento e à dor moral, ocorre a partir do fato violador (damnum in re ipsa). Ou seja, o direito à reparação nasce uma vez apurado o eventus damni, independentemente de haver, ou não, comprovação de prejuízo.
Nesse sentido, oportuno destacar, entre outros, a decisão recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do eminente Ministro Sávio De Figueiredo Teixeira:
“Civil. Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Notícia jornalística. Abuso do direito de narrar. Assertiva constante do aresto recorrido. Impossibilidade de reexame nesta instância. Matéria probatória. Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Dano moral. Demonstração de prejuízo. Desnecessidade. Violação de direito. Responsabilidade tarifada. Dolo do jornal. Inaplicabilidade. Não-recepção pela Constituição de 1988. Precedentes. Recurso desacolhido.
I – Tendo constado do aresto que o jornal que publicou a matéria ofensiva à honra da vítima abusou do direito de narrar os fatos, não há como reexaminar a hipótese nesta instância, por envolver análise das provas, vedada nos termos do enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
II - Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu interior. De qualquer forma, a indenização não surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela violação de um direito.
III - Agindo o jornal internacionalmente, com o objetivo de deturpar a notícia, não há que se cogitar, pelo próprio sistema da Lei de Imprensa, de responsabilidade tarifada.
IV - A responsabilidade tarifada da Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988, não se podendo admitir, no tema, a interpretação da lei conforme a Constituição.” [sem grifo no original][70] [71]
8. O QUANTUM REPARATÓRIO
A dor e o sofrimento impedem que o homem exerça de forma plena o seu direito inalienável à vida. O direito positivo, enquanto instrumento de justiça, não ignora as ofensas capazes de ocasionar a ruptura dessa plenitude, seja na esfera material, seja na esfera moral.
A dignidade da pessoa, os seus sentimentos de estima e a sua luta pela realização existencial devem merecer o devido respaldo por parte dos operadores do Direito.
Assim, os danos que a ela afetem podem e devem ser minimizados com a reparação autônoma, haja vista que o exame da disciplina legal vigente em nosso País revela, sem margem à dúvida, os casos em que ocorrem.
Tema da maior complexidade, e tarefa das mais árduas, é a fixação do quantum reparatório para o dano moral pelo Judiciário. Mas, a nossa Lex Mater impõe a indenização, a exemplo do direito comparado, de maneira a possibilitar ao lesado a compensação econômica.
Entretanto, é preciso lembrar sempre que a reparação pecuniária do dano moral não indeniza de maneira satisfatória – e nem poderia – a agressão íntima sofrida pelo ofendido.
Rogério Campos Ferreira
Bacharel em Direito pela UFMT;Servidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Código da publicação: 937
Como citar o texto:
FERREIRA, Rogério Campos..Indenização por dano moral: fixação do quantum debeatur. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, nº 155. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-civil-responsabilidade-civil/937/indenizacao-dano-moral-fixacao-quantum-debeatur. Acesso em 5 dez. 2005.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.