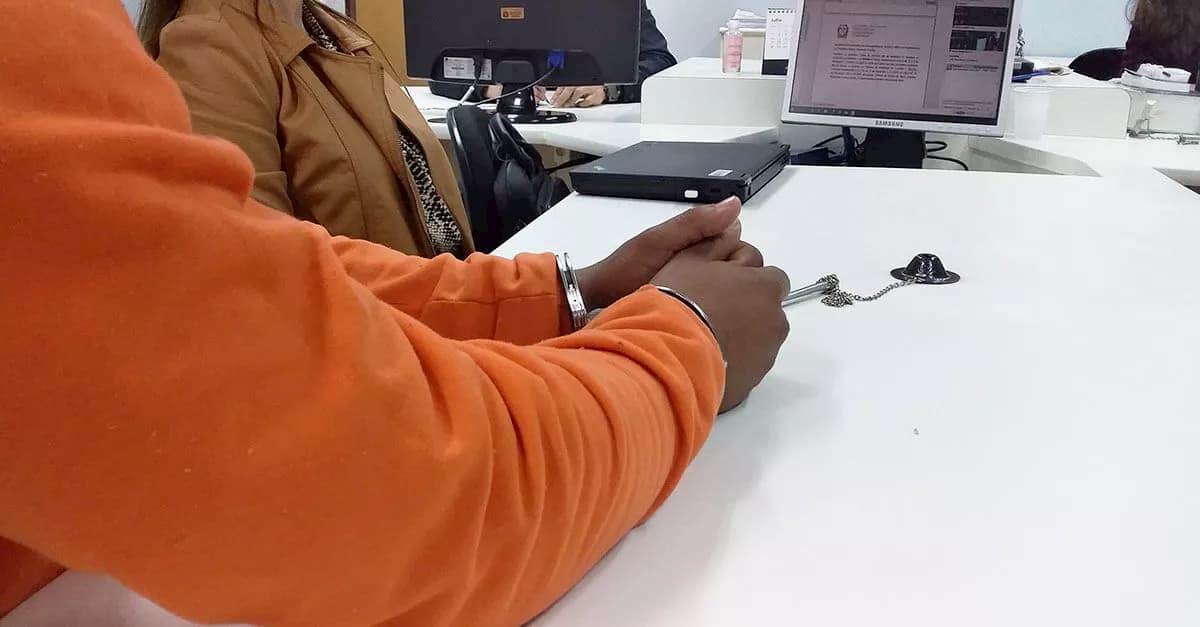1. INTRODUÇÃO
Dentre as possíveis agressões legais ao princípio da imparcialidade, aquelas que concedem ao magistrado, no processo penal, a iniciativa probatória, parecem ser as mais nocivas.
Significa, sem sombra de dúvidas, a retirada do magistrado da sua posição de terzietà, trazendo-o para a esfera particular e, conseqüentemente, malogrando a prestação jurisdicional que pretendia prestar.
A desnecessidade de comandos desta natureza é flagrante, ainda mais se revisitarmos os conceitos de distribuição do ônus da prova no processo penal, onde, não obstante a vedação ao non liquet, existem regras suficientes para a tomada de decisão.
2. A GESTÃO DA PROVA
Antes de adentrarmos o tema, convém analisarmos o atual estado da gestão da prova no processo penal.
Com o fim das provas tarifadas, ou provas legais, prevalece o chamado livre convencimento motivado do juiz. Vale dizer, o julgador é livre para apreciar a prova, dando-lhe o valor que sua consciência determinar, muito embora tenha que explanar, fundamentadamente, os motivos que o fizerem optar por aquela decisão. Trata-se de norma imperativa da CF/88, estatuída no art. 93, IX, que reserva a pecha de nulidade absoluta para os casos de decisões não fundamentadas.
A prova é direcionada exclusivamente ao juiz, que é seu destinatário final. Sua finalidade é gerar no magistrado o convencimento necessário para proferir uma sentença.
A prova tem como objetos os fatos e questões tidas como controvertidas no decorrer da instrução processual. A prova da vigência da lei não precisa ser feita, tendo em vista a prevalência do princípio jura novit curia, exceção aos casos de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário (art. 337, do CPC), desde que o juiz assim determine.
Assim dispõe o art. 156, do CPP, ao estabelecer o ônus da prova no processo penal
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
No dizer de Alexandre Freitas Câmara1
A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova e onde se busca responder à pergunta “quem deve provar o quê?”; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.
Na verdade, o ônus da prova objetivo, nos termos da explanação do ilustre processualista, é necessidade lógica do princípio da vedação ao non liquet.
No momento em que o Estado reservou para si o monopólio da jurisdição, entendida esta como serviço público, vedou, aos órgãos que a exercem, a indissolução dos conflitos com base na cláusula non liquet (não restou claro). Ou seja, quando as provas não forem suficientes, o juiz não pode se eximir de julgar o conflito, deve pôr fim ao litígio de uma forma ou de outra.
O ônus da prova objetivo age ao favor do magistrado, fazendo decidir aquele que terá a razão, unicamente estabelecendo quem se desincumbiu ou não do ônus de provar o que lhe era imputado.
A gestão da prova se dá dividindo o ônus que pesa sobre cada parte. Ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.
Vejamos a redação do art. 333, do CPC
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A diferença entre o art. 333, do CPC e art. 156, do CPP é brutal. Nesta se abre perigoso precedente para a atuação probatória interventiva do magistrado, sob a justificativa inefável de “dirimir dúvida sobre ponto relevante”. Este preceito necessita ser reinterpretado, consoante se verificará.
No processo penal, mais especificamente, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, este ônus é depositado completamente nos ombros da acusação.
3. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SEU PESO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ONUS PROBANDI
O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII) estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Quer-se dizer, a presunção é relativa, uma vez que cai por terra quando o órgão de acusação produz as provas irrebatíveis e necessárias da culpa do acusado. Antes disso, vigorará sempre a dúvida sobre a responsabilidade penal do processado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, decidindo a lide sempre a seu favor ante a insuficiência de provas para uma condenação.
A doutrina não costuma diferenciar presunção de inocência de presunção de não-culpabilidade, utilizando-as, muitas vezes, como sinônimos.
Da mesma forma que o ônus da prova, estabelecido no art.156, do Código de Processo Penal (este de abrangência indesejável) e no art.333, do Código de Processo Civil, são direcionados nitidamente ao magistrado, muito mais como uma saída à vedação do non liquet, o princípio da presunção de inocência também deve ser utilizado com tal desiderato.
Quer-se dizer que, inclusive por força cogente da Constituição, a presunção de inocência gera uma regra de decisão na apreciação da prova pelo julgador, que torna desnecessário a instrução processual de ofício. Se houver provas insuficientes da culpa do acusado, decide-se a seu favor simplesmente, caso contrário, condena-se.
A presunção de inocência é basilar para o exercício da jurisdição, para a distribuição do ônus da prova e como mecanismo de defesa, como nos ensina Luigi Ferrajoli2
Disso decorre – se é verdade que os direitos dos cidadãos são ameaçados não só pelos delitos mas também pelas penas arbitrárias – que a presunção de inocência não é apenas uma garantia de liberdade e de verdade, mas também uma garantia de segurança ou, se quisermos, de defesa social: da específica “segurança” fornecida pelo Estado de direito e expressa pela confiança dos cidadãos na justiça, e daquela específica “defesa” destes contra o arbítrio punitivo. Por isso, o sinal inconfundível da perda de legitimidade política da jurisdição, como também de sua involução irracional e autoritária, é o temor que a justiça incute nos cidadãos.
Entender em sentido contrário seria o equivalente a retirar do réu a garantia fundamental de somente ser tido como culpado após sentença condenatória transitada em julgado.
4. A NECESSIDADE DE PROIBIÇÃO DA INICIATIVA PROBATÓRIA PELO JUIZ CRIMINAL
4.1 Uma agressão desnecessária
Quando se concede ao magistrado ampla iniciativa probatória ocorre desnecessária agressão ao princípio da imparcialidade, uma vez que, como dito, as regras de distribuição do ônus da prova no processo penal são mais do que suficientes para a prolação de uma decisão justa. Além do mais, tal fato gera um efeito reflexo indesejável, qual seja, a fragilização da credibilidade do Poder Judiciário, com a minoração da imparcialidade objetiva.
A título de exemplo, data venia, não concordamos com o entendimento de Guilherme de Souza Nucci3, ao defender posição contrária.
Em homenagem à verdade real, que necessita prevalecer no processo penal, deve o magistrado determinar a produção das provas que entender pertinentes e razoáveis para apurar o fato criminoso. Não deve ter a preocupação de beneficiar, com isso, a acusação ou a defesa, mas única e tão-somente atingir a verdade. O impulso oficial também é princípio presente no processo, fazendo com que o juiz provoque o andamento do feito, até final decisão, queiram as partes ou não. O procedimento legal deve ser seguido à risca, designando-se as audiências previstas em lei e atingindo o momento culminante do processo,que é a prolação da sentença.
Primeiramente, é cediço que o conceito de verdade real há muito se encontra ultrapassado. O mito de se desejar refazer todos os acontecimentos exatamente como ocorreram, utilizado como subterfúgio para permitir uma instrução tão ampla que três sujeitos processuais participam ativamente, não encontra mais amparo no ordenamento jurídico.
Sobre a verdade real, incisiva lição nos é dada por Eugenio Pacelli de Oliveira4.
Talvez o mal maior causado pelo citado princípio da verdade real tenha sido a disseminação de uma cultura inquisitiva, que terminou por atingir praticamente todos os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. Com efeito, a crença inabalável segundo a qual a verdade estava efetivamente ao alcance do Estado foi a responsável pela implantação da idéia acerca da necessidade inadiável de sua perseguição, como meta principal do processo penal.
E arremata o preclaro mestre
O aludido princípio, batizado como da verdade real, tinha a incumbência de legitimar eventuais desvios das autoridades públicas, além de justificar a ampla iniciativa probatória reservada ao juiz em nosso processo penal.
Como dito, existem regras, inclusive constitucionais, que devem prevalecer sobre esta busca incessante de provas atribuída ao juiz criminal. Transformá-lo em investigador seria solução? Os riscos a sua imparcialidade, nestes termos, é evidente.
Corroborando sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do TJRS
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. GESTÃO DA PROVA. INQUIRIÇÃO DA OFENDIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ILEGITIMIDADE. A oficiosidade do juiz na produção de prova, sob amparo do princípio da busca da “verdade real”, é procedimento eminentemente inquisitório, que agride o critério basilar do sistema acusatório: a gestão da prova como encargo específico da acusação e da defesa. Lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Precedentes da Câmara. PROVA ORAL POLICIAL: seu desvalor. PROVA ORAL COLETADA DE SURPRESA: agressão à ampla defesa inadmissível porquanto medieval. PERSONALIDADE: não pode aumentar pena do cidadão por invadir a intimidade garantia constitucional. REGIME INTEGRAL FECHADO: excluído do sistema por inconstitucional. À unanimidade, deram parcial provimento ao apelo defensivo e negaram acolhida ao recurso ministerial5. (grifo nosso)
Reparemos algumas disposições legislativas, a exemplo dos art. 196 e art. 209, do CPP
Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.
(...)
Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.
§ 1o Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.
(...)
A inversão de papéis, que faz com que o magistrado se comporte como defesa ou acusação, é extremamente danosa para a credibilidade da jurisdição e sempre colocará o juiz em posição de parcialidade.
Eis a preciosa lição de Luigi Ferrajoli6
De todos os elementos constitutivos do modelo teórico acusatório, o mais importante, por ser estrutural e logicamente importante pressuposto de todos os outros, indubitavelmente é a separação entre juiz e acusação. Essa separação, exigida por nosso axioma A8 nullum iudicium sine accusatione., forma a primeira das garantias orgânicas estipuladas em nosso modelo teórico SG. Ela comporta não só a diferenciação entre os sujeitos que desenvolvem funções judicantes e os que desenvolvem funções de postulação e o conseqüente papel de espectadores passivos e desinteressados reservado aos primeiros em virtude da proibição ne procedat iudex ex officio, mas também, e sobretudo, o papel de parte – em posição de paridade com a defesa – consignado ao órgão da acusação e a conseqüente ausência de qualquer poder sobre a pessoa do imputado.
E continua o mestre italiano
Entendida neste sentido, a garantia da separação representa, de um lado, uma condição essencial do distanciamento do juiz em relação às partes em causa, que, como veremos, é a primeira das garantias orgânicas que definem a figura do juiz, e, de outro, um pressuposto dos ônus da contestação e da prova atribuídos à acusação, que são as primeiras garantias procedimentais do juízo.
Trata-se, à evidência de mais uma tentativa de inversão de funções, do mesmo molde do art. 156, do CPP. Ao produzir provas sponte propria, o juiz se vincula à causa, o que afeta sobremaneira sua isenção. Trata-se de um estado psicológico incompatível. Numa frase: “quem procura sabe bem o que vai encontrar”.
4.2 A prova para beneficiar o réu
Ainda que a intenção do magistrado seja produzir prova que será utilizada a favor do réu, não nos afigura cabível a sua iniciativa probatória. Tal justificativa não apresenta o grau de idoneidade suficiente para lhe permitir atuar como parte.
Em verdade, existem regras de distribuição do ônus da prova específicas para o processo penal, que tornam desnecessária qualquer tentativa do juiz de produzir prova para inocentar o réu.
De fato, sobre a acusação repousa o dever de provar a culpa do denunciado e, enquanto não se desincumbir deste desiderato, vigora o princípio da presunção de inocência. Ou seja, em dadas circunstâncias, não cabe nem ao réu produzir provas de sua inocência, quem dirá ao magistrado.
Indo além, pergunta-se: como o juiz identificará qual prova pode ou não ser benéfica ao acusado?
Ocorreriam hipóteses de o magistrado, no devaneio de estar ajudando a defesa e equilibrando as forças, produzir prova totalmente indesejável para o réu, desfazendo, inclusive, provável tese defensiva.
Se for caso de insuficiência ou inexistência de defesa, a solução é outra. O correto seria aplicar a Súmula 523, do STF
Súmula 523 – STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
A atuação supletiva não pode ser admitida no processo penal contemporâneo. Nestes termos, em situação análoga, colacionamos o seguinte julgado, em que foi vedada a substituição da vontade do réu pelo magistrado.
Recurso. Interesse recursal. Impossibilidade de o magistrado se substituir na vontade do réu e do defensor para avaliar o interesse em recorrer da sentença condenatória. – “(...) não se vislumbra apoio legal para examinar a sentença condenatória e, de ofício, declarar tal réu indefeso porque seu defensor não recorreu. É que o juiz não pode se substituir na própria vontade do réu e de seu defensor para avaliar o seu interesse em recorrer ou não quanto ao mérito da condenação.7
A justificativa de atuar para equilibrar as partes envolvidas no processo é irreal. A própria lei já se encarregou disto, desde que se faça valer os direitos e garantias individuais do acusado.
Ademais, a quebra da imparcialidade, no caso de prova para beneficiar o réu também é evidente. Psicologicamente, a prova produzida pelo magistrado, visando auxiliar a defesa terá valor agregado muito maior em seu juízo de ponderação, uma vez que foi produzida pelo próprio julgador.
É preciso salientar que o princípio da imparcialidade representa garantia para ambas as partes, e não unicamente para o acusado. O princípio em testilha salvaguarda os interesses tanto da acusação como da defesa, uma vez que confere credibilidade para a própria jurisdição.
Neste ponto nos afastamos do magistério de Geraldo Prado8
De toda a sorte, a intervenção judicial na atividade probatória a favor do acusado há de ser moderada, como antes frisamos, enquanto estará interditada em relação à acusação, que nos dias de hoje dispõe de aparato suficientemente bem constituído para pelejar em juízo.
Acreditamos que a solução para a desigualdade das forças processuais não se encontra na atuação supletiva do magistrado, tendo em vista o já exposto. A resposta não é jurídica, mas política. Muito melhor seria a iniciativa estatal de aparelhar dignamente as defensorias públicas, com ampliação de efetivo, e a valorização do advogado como profissional indispensável para a administração da justiça (art. 133, da CF).
4.3. A iniciativa do magistrado em caso de dúvida
Reza o brocardo hermenêutico que não existem palavras inúteis na lei. Portanto, a parte do art. 156, do CPP, que estabelece que o juiz pode ordenar diligências de ofício, deve possuir alguma eficácia. Não se pode, simplesmente, tolher a total significação de uma disposição legal, mas deve-se adequá-la ao novo arcabouço jurídico inaugurado pela novel Carta Magna.
A diferença entre o art. 333, do CPC e art. 156, do CPP é brutal. Nesta se abre perigoso precedente para a atuação probatória interventiva do magistrado, sob a justificativa inefável de “dirimir dúvida sobre ponto relevante”.
No entanto, a hipótese de dúvida deve receber tratamento diferenciado do que é tida hoje, nestes tempos de desconstrução do conceito de verdade real.
Com efeito, a dúvida que o art. 156 dá conta é aquela sobre prova já produzida, e trazida regularmente aos atos por iniciativa exclusiva das partes.
Como o juiz é o destinatário final de toda e qualquer prova produzida nos autos, se houver algum documento ou testemunho que não seja inteligível ou marcado por expressões dúbias, pode e deve o juiz requisitar maiores esclarecimentos. Repise-se, entretanto, que tal diligência não pode trazer aos autos fatos novos.
Mutatis mutandis, seria um tipo de embargos de declaração com “pólos invertidos”. Ou seja, o ato da parte é que ensejaria a integração, por ter causado perplexidade ao julgador.
Corroborando com o tema, colacionamos, novamente, a lição de Pacelli9
Hipótese diferente ocorreria quando a atividade probatória do juiz se destinasse unicamente a resolver dúvidas sobre ponto relevante, nos exatos termos do art. 156, do CPP. E por dúvida, que deve se dirigir ao questionamento acerca da qualidade ou idoneidade da prova, não se pode entender a ausência dela (prova), como ocorreria no exemplo anterior. A dúvida somente se instala no espírito a partir da confluência de proposições em sentido diverso sobre determinado objeto ou idéia. No campo probatório, ela ocorreria a partir de possíveis conclusões diversas acerca do material probatório então produzido e não sobre o não produzido. Assim, é de se admitir a dúvida do juiz apenas sobre prova produzida e não sobre a insuficiência ou ausência da atividade persecutória.
Desta forma, evita-se qualquer forma de interferência do magistrado na seara da produção das provas, resguardando sua necessária imparcialidade para apreciação do conjunto probatória, ao final, na época de prolação da sentença.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. I, 11ª Ed.; Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Juris, 2004
2 FERRAJOLI. Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Ed. RT, 2002.
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. RT, 2006.
4 OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2004
5 TJRS, Apelação Crime Nº 70015801350, Quinta Câmara Criminal, Relator: Amilton Bueno de Carvalho; Julgado em 26/07/2006.
6 Id. ibidem.
7 TACRIM –SP – 6ª C. – AP 631.693-1 – Rel Rubem Gonçalves – j. 05.12.1990 – RT 670/501
8 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.
9 Id. Ibidem.
Elaborado em janeiro/2014
Danilo Von Beckerath Modesto
Procurador Federal, Ex-Advogado da Petrobras S/A, Especialista em DireitoPenal e Processo Penal e Direito Público.
Código da publicação: 2982
Como citar o texto:
MODESTO, Danilo Von Beckerath..A iniciativa probatória do magistrado e sua imparcialidade.. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 22, nº 1153. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-penal/2982/a-iniciativa-probatoria-magistrado-imparcialidade-. Acesso em 1 abr. 2014.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.